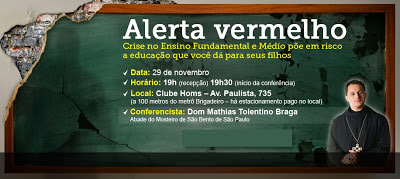“‘A imagem de um século XIX sombrio e triste, austero
e constrangedor para as mulheres, é uma representação espontânea’ (1) —
mas sumária, e particularmente inexata. Se o Código Civil adotado em 1804
coloca de fato as mulheres sob a dependência de seus maridos, considerando-as,
numa palavra, seres inferiores, debaixo de tutela, é preciso reconhecer que a
sociedade, a opinião e a literatura promovem uma imagem muito diferente.
Ao homem, a dominação
física e, portanto, a autoridade, o comando, a vontade. O homem, declara assim
a baronesa Staffe, é ‘aquele a quem a natureza
e a sociedade fizeram o mais forte’.(2). Mas à mulher cabe outro tipo de
superioridade moral.
Na década de 1830,
madame Celnart recomendava à mulher jamais esquecer que, se ‘ela pode ser superior em espírito, por sua força de
vontade [...], exteriormente ela deve ser mulher! Deve agir como esse ser feito
para agradar, para amar, buscar um apoio, esse ser tão diferente do homem e tão
semelhante ao anjo’.(3) E na mesma época Balzac estigmatizava, sob a
pose altiva de madame Rabourdin, o que ele chamava ironicamente ‘a mulher superior’, essa que pretende brilhar
por seu espírito ou por seus talentos, independentemente de seu marido e acima
dele.
No cômputo geral, a
mulher aparece como ao mesmo tempo superior e inferior — colocada num estado
que participa da perfeição angélica e da fragilidade pueril. Percebida como
essencial, essa diferença entre os sexos deve, a qualquer preço, ser preservada
e valorizada.
A rainha e o cavalheiro
Considerados
essencialmente diferentes, homens e mulheres obedecem, em suas relações mútuas,
a regras distintas, concebidas em função do que os caracteriza.
Do lado dos homens,
sua superioridade física e sua inferioridade implicam que eles deem proteção e
respeito às mulheres.
Quanto às mulheres,
seu estado lhes proporciona certamente múltiplos privilégios, mas também
acarreta constrangimentos e interdições sem conta. Para retomar um jargão
familiar aos juristas, pode-se dizer que a polidez lhes impõe sobretudo
obrigações do ‘não fazer’,
numa palavra, interdições, e isso se relaciona ao que, supostamente, é a sua
natureza, a meio caminho entre o anjo e a criança — ao passo que os homens,
seres ativos, voluntariosos, agentes, se veem submetidos às obrigações do ‘fazer’.
A natureza e a
sociedade, explica sem rir a baronesa Staffe, fizeram o homem mais forte, para
que ele fosse o protetor da mulher.(4) [...]
A devida proteção à dama
Assim, observa a
madame Celnart, ‘a decência exige que um
cavalheiro ofereça seu braço a uma dama que passeia a seu lado; a galanteria
exige que ele lhe solicite permissão para carregar o que ela traga nas mãos,
como uma sacola, um livro, uma sombrinha (com o sol já posto); em caso de recusa,
ele deve insistir. Acompanhado de duas damas, o homem não deve se dispensar de
dar o braço a cada uma delas’.(5) Com a
graça de Deus, é excepcional o caso do infeliz caminhante que se
defronte com o terrível drama de consciência advindo de a regra exigir, de
forma imperiosa, que se ofereça à dama o braço esquerdo — sendo incomensuravelmente raro que se tenha dois
deles...
Mas, então, por que o
braço esquerdo? Para que a dama acompanhada por ele se mantenha sob sua
proteção: enquanto ela se apoia em seu braço esquerdo, o homem deve manter
livre seu braço direito, de prontidão, para defende-la em caso de necessidade.
Defendê-la, explica a esse propósito a condessa de Gencé, deve ser tomado aqui ‘em sua acepção mais ampla. Defender quer dizer tanto
proteger materialmente contra os perigos quanto facilitar as travessias,
afastar os importunos, numa palavra: assegurar a passagem e dirigir a marcha’.
Ora, ‘caso o homem se veja na obrigação de proteger a dama
contra os malfeitores [...], o braço direito será seguramente o mais útil.
Assim, o hábito de oferecer o braço esquerdo resulta em ser lógico, pois é o
bom senso que, em matéria de savoir-vivre,
proporciona as mais sábias inspirações’.
No entanto, a regra
detalhada pela condessa de Gencé, no início do século XX, não parece muito
antiga — em 1838, madame Celnart não faz referência alguma a esse respeito —
nem muito estrita. Muitos homens, admitindo que o lado direito é o lugar de
honra, ‘persistem em oferecer, como se fazia
outrora, o braço direito à sua acompanhante’. De fato para dançar, é o
braço direito que os cavalheiros oferecem às damas, caso em que a ideia de
proteção não tem mais razão de ser, e é o que igualmente sempre fazem aqueles
que carregam uma espada, os militares, por exemplo, ‘não para desembainhá-la com facilidade, mas para não prejudicar a
passada da montaria’.(6) [...]
Do mesmo modo, na rua,
ele cede à mulher a parte alta da calçada, isto é, a parte do passeio mais
afastada da rua, fazendo um biombo entre ela e o bueiro — lembrança de um tempo
muito recuado em que este não era senão esgoto infecto — e, mais amplamente,
entre ela e o exterior. Trata-se, no mais, observa madame Celnart, de uma ‘marca de deferência igualmente devida àqueles que
têm direitos respeitantes a nós’(7) — o que demonstra que deferência e
proteção podem estar intimamente ligadas, desempenhando o homem, no caso, o
papel de um guarda-costas. [...]
A gestão do espaço é
aqui manifestação de proteção simbólica. Mas a polidez não exclui a
possibilidade de que esta se torne bem real. Assim, caso a mulher acompanhada
seja ofendida por outro homem, cabe ao acompanhante, ao cavalheiro, exigir
desculpas, e, no limite, reparação pelas armas, como se fosse efetivamente ele,
e não a mulher que ele acompanha, a ter sofrido a ofensa. É verdade que um
duelo opondo um homem e uma mulher seria não somente contrário a todos os usos,
mas propriamente inconcebível: em caso algum um homem bem-educado ergueria a
mão contra uma mulher, nem uma dama como deve ser se bateria com um homem. O
que não é sempre sem consequências: em junho de 1888, Alphonse Daudet esteve a
ponto de se bater em duelo com o jornalista Gabriel Astruc, que tinha escrito
um artigo em que insultava sua esposa — e esta chegou a ameaçar o marido com a
separação, caso ele não se dispusesse a lavar a afronta.
Em outro caso, madame
Caillaux, mulher do ministro das Finanças, pretendendo punir o editor do Figaro, Gaston Calmette, por haver deixado
publicar a correspondência adúltera de seu marido, escolherá — na
impossibilidade de um duelo — assassinar o jornalista a tiros de revólver.
Conta-se, na época, que, enquanto o policiais entravam em diligência para detê-la,
a homicida em potencial teria apostrofado: ‘Não
me toquem, eu sou uma dama’.(8)

Mas o homem, protetor
nato da mulher, lhe deve também o respeito, esse respeito devido à sua
superioridade moral. Um respeito marcado particularmente por meio da saudação,
em geral, considerada o mais elementar dos signos exteriores da polidez. ‘Um inferior, qualquer que seja a hierarquia, deverá
sempre saudar seu superior. Todavia, um idoso tomará a iniciativa de saudar um
homem jovem, caso este esteja acompanhado de uma dama. Mesmo no exército essa
regra será rigorosamente observada. Um general deverá saudar, antes, não
importa que lugar-tenente, se este estiver em companhia de uma dama. E deverá
fazer o mesmo para um ajudante de ordens’.(9) A mulher, qualquer que
seja — provado que ela demonstre, como detalha da mesma forma a baronesa
Staffe, decência no modo de trajar e um porte adequado(10) — terá direito à
deferência naturalmente devida aos superiores, ou aos idosos, qualquer que seja
o local do encontro: quando uma mulher entra em sua residência, o dono da casa
se inclina diante dela, em princípio tão reverentemente quanto se ele próprio
entrasse num salão.
No entanto, se o
princípio é estável, incontestado, a prática dessa deferência devida às damas —
em especial por meio da saudação — parece sujeita a modas muito flutuantes.

Seria então a mulher,
tal como pretende a baronesa Staffe, ‘rainha na
sociedade’, e reverenciada pelo homem ‘como
um ser mais delicado que ele, como uma pessoa preciosa’?(11) Digamos
antes que ela tem, quanto a isso, a ambição, ou a nostalgia. Nostalgia do tempo
mítico, em que ‘o príncipe de Ligne, presidente
do Senado belga, descobria seus cabelos brancos diante de todas as jovens de
baixa corte do castelo de Bel-Oeil’, do tempo em que ‘o orgulhoso Luis XIV [quadro ao lado] erguia seu chapéu diante de uma
lavadeira’.(12) Rainha? É o que ela foi outrora, suspira a condessa de
Genlis: antes da Revolução. Naquela época, em boa companhia, ‘as mulheres eram tratadas pelos homens com quase
todas as atitudes respeitosas prescritas pelos príncipes de sangue; eles não se
dirigiam a elas em geral senão em terceira pessoa; entre eles, e diante delas,
os homens jamais se tratavam por tu. Quando lhes dirigiam a palavra, era sempre
em um tom de voz menos elevado do que o usado entre eles. Essa nuança de
respeito’, conclui melancolicamente madame de Genlis, ‘tinha uma graça impossível de
descrever’.(13)
Se de fato não é mais
rainha, a mulher se mantém sagrada, intocável, o que constitui um considerável
privilégio, como afiança Maurice Barrès a Anna de Noailles, a propósito de uma
intriga espalhada pela baronesa Deslandes: ‘As mulheres têm verdadeiramente uma
irresponsabilidade e um poderio monstruosos. De homem para homem, minha posição
seria simples; eu diria: ‘Mas a quem foram mostradas essas cartas? Ao senhor X?
Eu vou entender-me com ele’. Seria tudo consensual. Mas, no caso, para além das
complicações de detalhe, o fato é que madame D., com seu privilégio de mulher,
poderia responder: ‘Eu sei o que sei, eu digo o que digo e me recuso a dar
qualquer explicação’.(14) [...]
E isso aconteceria sem
que o homem por ela colocado em situação embaraçosa, que ela encurrala até o
desespero, pudesse desmentir sem cair no ridículo, ou desafiá-la para um duelo,
última solução para resolver, entre homens, os atentados ao decoro e as questões
de honra. Em poucas palavras, a mulher, a certos respeitos, está em posição de
comando.
Não obstante, essa
rainha, essa intocável é também uma escrava, pois tal dignidade e tal
superioridade lhe são impostas em troca de obrigações não raro mais pesadas do
que as que recaem sobre o sexo oposto. Assim sendo, beneficiárias da proteção
dos homens, as mulheres renunciam, no mesmo ato, a toda vontade, a todo poder,
a toda autoridade, exceto a mundana e a doméstica.
 Em primeiro lugar, sua
superioridade moral e mundana faz da mulher a guardiã natural da polidez e do savoir-vivre. Esse lugar comum foi largamente
e arrastadamente desenvolvido, em 1801, em um poema medíocre, que, no entanto,
gozará de prodigioso sucesso, O mérito das
mulheres, de Gabriel Legouvé. No preâmbulo, o autor explica que só as
mulheres poderão conduzir o povo francês ‘à
genuína urbanidade que quase se perdeu’ [com a Revolução Francesa].
Somente elas, com efeito, ‘aprimoram as
maneiras; promovem o sentimento do decoro; são as verdadeiras preceptoras do
bom-tom e do bom gosto; elas saberão nos devolver [...] a afabilidade, que era
um dos nossos traços distintivos’.(15) É o que continua a repetir, meio
século depois, a primeira edição de uma nova revista feminina, O conselheiro das damas [acima, foto da capa]. ‘As mulheres’, disse em algum lugar madame de
Staël, ‘conduzem a sociedade. É sobretudo na
França que esse axioma espiritual encontra sua justa aplicação. São as damas de
nossos salões que ensinam as regras da verdadeira elegância; somente elas,
nesse tempo de lassidão, têm defendido com sua influência civilizadora os
princípios do bom gosto, as tradições das belas maneiras e a polidez rara,
legada por nossos antepassados’.(16)
Em primeiro lugar, sua
superioridade moral e mundana faz da mulher a guardiã natural da polidez e do savoir-vivre. Esse lugar comum foi largamente
e arrastadamente desenvolvido, em 1801, em um poema medíocre, que, no entanto,
gozará de prodigioso sucesso, O mérito das
mulheres, de Gabriel Legouvé. No preâmbulo, o autor explica que só as
mulheres poderão conduzir o povo francês ‘à
genuína urbanidade que quase se perdeu’ [com a Revolução Francesa].
Somente elas, com efeito, ‘aprimoram as
maneiras; promovem o sentimento do decoro; são as verdadeiras preceptoras do
bom-tom e do bom gosto; elas saberão nos devolver [...] a afabilidade, que era
um dos nossos traços distintivos’.(15) É o que continua a repetir, meio
século depois, a primeira edição de uma nova revista feminina, O conselheiro das damas [acima, foto da capa]. ‘As mulheres’, disse em algum lugar madame de
Staël, ‘conduzem a sociedade. É sobretudo na
França que esse axioma espiritual encontra sua justa aplicação. São as damas de
nossos salões que ensinam as regras da verdadeira elegância; somente elas,
nesse tempo de lassidão, têm defendido com sua influência civilizadora os
princípios do bom gosto, as tradições das belas maneiras e a polidez rara,
legada por nossos antepassados’.(16)
Mas exatamente por
essa razão, a mulher, e mais ainda a jovem, se submetem a constrangimentos
particularmente onerosos. Sobre elas pesam certas restrições, certos interditos
desconhecidos dos homens. Assim, o tabaco é geralmente proibido às mulheres,
sendo considerado, até o fim do século XIX, como especialmente masculino. Mais
constrangedor ainda: até uma idade relativamente mais avançada, uma senhorita
só deve sair acompanhada de um parente muito próximo, ou de uma senhora mais
idosa, que ganha o título de chaperon, e
deve cumprir com zelo seu papel de vigilante.
No início do século
seguinte, alguns continuam a ver aí uma interdição necessária, ao passo que
outros, a exemplo da condessa de Gencé, constatam, com uma pitada de
resignação, que esse ‘velho princípio da
polidez francesa, hoje, vem sendo abandonado’, já que daí por diante se
chega a autorizar que as jovens, a partir dos 20 ou 21 anos, saiam sozinhas,
para passeios na cidade, missas matinais ou visitas de caridade.(17)
Na realidade, aqui se entremostra uma segunda série de constrangimentos
que, na ordem do savoir-vivre, são a
contrapartida da proteção de que a mulher se beneficia: o corolário da fraqueza
que se lhe atribui e que o decoro a constrange a levar adiante. Supostamente
fraca e frágil, ela deve notadamente renunciar a tudo quanto se relacione ao
poder e à autoridade, à força e à violência, considerados atributos
especificamente masculinos.
Por essa razão, a
mulher deve evitar as discussões políticas, que a levariam a se envolver com
aquilo que não lhe diz respeito. Como já afirmava madame de Genlis, no início
do século XIX, lembrando-se sem dúvida das ambíguas heroínas da Revolução, ‘há de se convir em que, no geral, as mulheres não
são talhadas para governar, nem para se envolver nos graves interesses da
política’. A prova? ‘Não se encontraria
talvez uma só mulher de 20 anos que, dotada de deslumbrante beleza, consentisse
(se a troca fosse possível) em abrir mão dela para conquistar um trono’.(18)
Em consequência, e ainda que para isso seja preciso fingir, ela deverá ‘nessa conversação, insinuar sua ignorância e se
desculpar por não se dispor sequer a emitir uma opinião’. ‘A mulher, continua, a boronesa Staffe, ‘não impõe suas convicções pessoais [...]; um de seus
grandes encantos é não posar de superior ao homem, quaisquer que sejam sua
inteligência e sua força moral’.(19)
Tal é o leitmotiv do decoro feminino, até a guerra de
1914: reserva e discrição devem marcar cada gesto, cada atitude. O modo de
andar, por exemplo, deve ser ‘modesto e
compassado’, sem aquela precipitação que, segundo madame Celnart,
ensombrece a graciosa decência que caracteriza a mulher.(20) A mulher,
acrescenta a condessa Drohojowska, deve mostrar-se amável, cordata, graciosa,
mas deve, sobretudo, ‘unir às suas qualidades
uma imensa reserva’.(21) No início do século seguinte, a baronesa Staffe
ou a marquesa de Pompeillan não dizem outra coisa, ao afirmarem que ‘uma verdadeira mulher do mundo se mostrará reservada
em tudo e em toda parte, em casa, na casa de alguém e sobretudo em público’.(22)
Em consequência,
proíbe-se, principalmente às jovens, tudo o que poderia ir de encontro a esse
princípio, ‘Nada de apertos de mão vigorosos,
nada de cruzar as pernas, nada de interesses pelos negócios ou pelo turfe, nada
de opiniões categóricas sobre os homens ou as mulheres, nada de familiaridade
com os cavalheiros’, lembra a condessa de Gencé. A esse propósito, nem
seria preciso dizer que toda iniciativa amorosa é estritamente proibida pelos
costumes. Segundo o dito célebre, um homem cortejador é um galante, mas uma
mulher que faça o mesmo é apenas uma apreciadora vulgar de galanteios. O máximo
que se autoriza às jovens é prestar atenção cordial às galanterias delicadas, ‘desde que’, prossegue a condessa, ‘a galanteria seja uma forma um tanto refinada de
polidez’.(23)
Quanto a isso, o
século XIX, ‘o século da virgindade’,(24)
como por vezes foi qualificado, parece tão afastado do século precedente,
quanto do fim do século XX, com sua liberação sexual. É que entre a queda do
Antigo Regime e o século seguinte se interpõe a lembrança traumatizante da
Revolução — quando se veem, na França, relata madame de Genlis, ‘jovens mulheres de muito boa aparência
apresentando-se em público quase inteiramente nuas, como se estivessem na
Lacedemônia; tratando-se por tu; [...] dizendo em público, em seu próprio nome,
versos eróticos que não poderiam ser assinados nem por homens’.(25)
[...]
Dimensão prática da polidez: perenidade da família
Enquanto as opiniões
autorizadas por vezes divergem quanto ao sentido e ao alcance de certos
princípios de polidez, estes se revelam, quanto a isso, perfeitamente estáveis
e concordantes: ‘Um homem que só aplique as
regras do savoir-vivre nas suas relações
sociais e esqueça-as em família não é um homem de sociedade: tem só o verniz’.
Tal julgamento, emitido em 1898 pela marquesa de Pompeillan, ressurge ao longo
do século, amparado em justificações ao mesmo tempo utilitárias — é absurdo ser
polido no mundo, diante de desconhecidos, com os quais a pessoa talvez jamais
volte a se encontrar, e impolido em família, diante daqueles de quem se espera
toda a felicidade da vida — e morais.
Nesse quadro
privilegiado, a polidez permitirá, de início e efetivamente, evitar que as
discussões degenerem em conflito e daí em cenas de descompostura. A baronesa
Staffe lembra aos esposos que, em caso de discussão, ‘se souberem refrear qualquer expressão ofensiva ou simplesmente
impolida, o bom acordo não tardará a se restabelecer, e um dos cônjuges, o mais
dotado, não tardará a ceder. Ao contrário, um dito mordaz, uma palavra
injuriosa invocam a tempestade e, não raro, comprometem para sempre o
firmamento conjugal’.(27) Percebe-se aí, claramente, a dimensão prática
da polidez, fundamento da perenidade da família e da paz dos lares,
indispensáveis numa sociedade que proíbe o divórcio ou que o encara sob severa
suspeição.
Quanto à intimidade no
lar, esclarece madame Celnart, esta pode certamente dispensar certas etiquetas,
mas nunca o respeito. Só os abrutalhados imaginam que em família tudo é
permitido. Na presença da mulher ou do marido, a pessoa não deve jamais se permitir
satisfazer necessidades que introduzam, entre eles, qualquer sentimento de
aversão, nem se dedicar a cuidados pessoais que, diante de qualquer um que não
seja ela própria, comprometem a decência ou a propriedade — como lavar os pés,
cortar as unhas, sair do banho etc.(28)
*
* *
Em resumo, para o
século XIX, a vida conjugal, mesmo na intimidade, não poderia ser uma no man´s land [terra de ninguém] em matéria de
polidez — cuja importância aumenta na medida em que se tende a negligenciá-la,
já que a inter-relação é decisiva, pois dela depende o futuro da família, à
mercê das consequências por vezes incalculáveis de uma expressão fora do lugar,
um gesto mal interpretado, em poucas palavras, uma impolidez qualquer.
 |
| Uma das gravuras da revista acima mencionada |
Notas:
1. G. Fraisse, M. Perrot, in G. Duby, M.
Perrot, Histoires des femmes em Occident,
t. IV, p. 13.
2. Baronne Staffe, Indications pratiques pour obtenir um brevet de femme
chic, Flammarion, 1907, p. 230.
3. Mme Celnart, Nouveau Munuel complet de la bonne compagnie, op. cit., p. 134.
4. Baronne Staffe, Indications pratiques pour obtenir um brevet de femme
chic, op. cit., 1907, p. 230.
5. Mme Celnart, Nouveau Munuel complet de la bonne compagnie, op. cit., pp.
267-268.
6. Comtesse de Gencé, Savoir-vivre et usages mondains, Bibliothèque
des ouvrages pratiques, [s.d] (1097), pp. 11-12.
7. Mme Celnart, Nouveau Munuel complet de la bonne compagnie, op. cit., p. 270.
8. Citado por L. Daudet, Paris vécu, 1ª série, Rive droite, 1929, p.
109.
9. Comtesse de Gencé, Savoir-vivre et usages mondains, op. cit., p.
5.
10. Baronne Staffe, Usages du monde, Éditions 1900, 1989, p. 104.
11. Baronne Staffe, Indications pratiques pour obtenir um brevet de femme
chic, op. cit., p. 78.
12. Baronne Staffe, Usages du monde, op. cit., p. 103.
13. Dictionnaire de
l´étiquette, op. cit., t. II, p. 347.
14. M. Barrès a A. de Noailles, carta de
6 de agosto de 1903, em Correspondance,
L´Inventaire, 1994, p. 29.
15. G. Legouvé, Le Mérite des femmes, Camuzeaux, 1835, p. XLVII.
16. Le Conseiller des dames, jornal
d´économie domestique et de travaux d´aiguille, 1847-1848, t. I, p. 1.
17. Comtesse
de Gencé, Code mondain de la jeune fille, Bibliothéque des oeuvres
pratiques, 1909, p. 32.
18. Citado por Mme de Saint El..., Les Femmes au XIXe siècle, 1828, pp. 102-103.
19. Baronne Staffe, Usages du monde, op. cit., p. 226.
20. Mme Celnart, Nouveau Munuel complet de la bonne compagnie,
op. cit., p. 49.
21. Comtesse Drohojowska, Conseils à une fille sur les devoir à remplir dans le
monde, Lyon, Périsse, 1853, p. 98.
22. Marquise de Pompeillan, Usages du monde dans la societé moderne, le guide de
la femme du monde, Pontet-Brault, 1898, p. 228.
23. Comtesse de Gencé, Code mondain de la jeune fille, op. cit. Pp.
32, 228.
24. A. Corbin, em Ph. Ariès, G. Duby,
Histoire de l avie privée, Le Seuil, 1987, t. IV, p. 540.
25. Cf. A. Montandon,
“Civilités”, em Civilités extremes,
Clermont-Ferrand, Association publication faculté Clermont-Ferrand, 1997, pp.
115 sq.
26. Marquise de Pompeillan, Guide de la femme du monde, op. cit., p. 149.
27. Baronne Staffe, Usages du monde, 1989, p. 347.
28. Mme Celnart, Nouveau Munuel complet de la bonne compagnie,
op. cit., pp. 23-24.